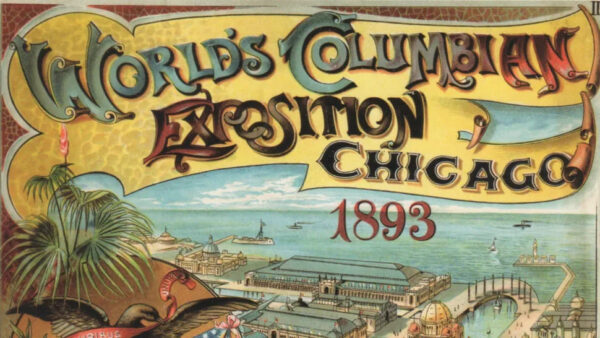Aproveitando o momento Copa do Mundo e a recente eliminação da seleção brasileira, peço licença para escrever uma pequena reflexão acerca de alguns discursos e narrativas consolidadas sobre os caminhos atuais e históricos de nosso futebol. É, de fato, mais uma reflexão, baseada em análise de discursos e olhares pessoais, do que um texto acadêmico em si.
Bom, chegamos a final da Copa do Mundo 2018 na Rússia e, curiosamente, nenhum representante sul-americano disputou a semifinal. Desde 2006 não tínhamos uma semifinal sem a presença de pelo menos um país sul-americano, ano em que Itália e França venceram, respectivamente, Alemanha e Portugal, tendo ambas as seleções depois disputado a final que valeu o título para os italianos e ficou marcada pela cabeçada de Zinedine Zidane no zagueiro Marco Materazzi.
Antes de 2006, apenas em 1934, 1966 e 1982 (mesmo com o esquadrão brasileiro de Zico e companhia), não tivemos uma seleção sul-americana entre as quatro melhores do torneio mundial. Nas finais, os sul-americanos estiveram presentes em 12 das 21 edições da Copa do Mundo (já contando 2018), tendo sido campeões em nove dessas oportunidades.
Considerando o número de países filiados à sua entidade principal, a Conmebol, é possível inferir que a participação dos países sul-americanos nas Copas do Mundo é, historicamente, muito notável. São apenas dez nações que disputam as eliminatórias para poderem jogar a fase final da Copa do Mundo, o menor número de participantes dentre todas as federações continentais. As eliminatórias na Europa, América Central/Norte, África, Ásia e até mesmo na Oceania, possuem mais países disputando vagas na fase final da Copa do Mundo do que a América do Sul.
É claro que não podemos deixar de destacar a preponderância de três seleções, de forma mais específica, para esse sucesso sul-americano em Copas: Argentina, Brasil e Uruguai. O pentacampeonato dos brasileiros e o bicampeonato de argentinos e uruguaios, elevaram o futebol sul-americano para um outro nível no cenário internacional, batendo de frente com os europeus pela hegemonia nessa modalidade esportiva. Fora essas três seleções, apenas o Chile ficou uma vez entre os quatro primeiros em uma Copa do Mundo, quando foi terceiro colocado jogando em casa em 1962. Colômbia e Paraguai já formaram fortes equipes, mas nunca passaram das quartas de final. O Peru chegou, também com uma grande equipe, ao quadrangular semifinal da Copa de 1978, onde o vencedor garantiria uma vaga na decisão. Mas acabou eliminado como lanterna da chave enfrentando a Polônia e os vizinhos Brasil e Argentina, tendo essa Copa sido marcada pelo famoso e duvidoso jogo do “6×0”, onde os argentinos venceram os peruanos e garantiram, assim, a vaga na final e o consequente título mundial sobre a Holanda.
De toda forma, mesmo com poucas seleções tendo alcançado historicamente o “estrelato”, o futebol sul-americano sempre ficou marcado por discursos e narrativas que o diferenciavam do futebol europeu. A construção social miscigenada do continente (e de forma mais específica em alguns países, como o Brasil), fruto do processo colonizador de dominação europeia e da escravidão por aqui imposta, fez com que diferentes intelectuais, cronistas e veículos de comunicação, tratassem o futebol sul-americano como distinto do “frio” e “tático” futebol europeu, devido suas possibilidades de “improviso”, “ginga” e “malevolência”. Não foram raras as vezes que, ainda nessa Copa de 2018, se fez possível ouvir diferentes comentaristas falando das possibilidades de improviso e da ginga sul-americana em contraste aos europeus.
Mas será essa narrativa real ou apenas uma construção? De onde vem esse olhar? Qual a relação que possui com nossa identidade? E o que isso influenciou (ou não) na eliminação atual do Brasil em 2018? Para entendermos melhor todo esse debate acerca dos discursos sobre o futebol sul-americano e, mais especificamente o brasileiro, temos que retornar à Copa de 1938, ocorrida na França.
Nesse mundial, o cientista social Gilberto Freyre escreveu um artigo, intitulado “Foot-ball Mulato”, onde explicitou um pouco do olhar que buscava consolidar sobre o futebol brasileiro. Nas palavras do autor (1938), em relação a boa participação brasileira na Copa de 1938:
[…] uma das condições dos nossos triunfos, este ano, me parecia a coragem, que afinal tivemos completa, de mandar a Europa um team fortemente afro-brasileiro. Brancos, alguns, é certo; mas grande número, pretalhões bem brasileiros e mulatos ainda mais brasileiros. […] O novo estilo de jogar foot-ball me parece contrastar com o dos europeus por um conjunto de qualidades de surpresa, de manha, de astúcia, de ligeireza e ao mesmo tempo de espontaneidade individual em que se exprime o mesmo mulatismo de que Nilo Peçanha foi até hoje a melhor afirmação na arte política. […] Acaba de se definir de maneira inconfundível um estilo brasileiro de foot-ball; e esse estilo é mais uma expressão do nosso mulatismo ágil em assimilar, dominar, amolecer em dança, em curvas ou em músicas técnicas europeias ou norte-americanas mais angulosas para o nosso gosto. […] O mulato brasileiro deseuropeisou o foot-ball dando-lhe curvas. […] O estilo mulato, afro-brasileiro, de foot-ball é uma forma de dança dionisíaca.
É notório nas palavras de Freyre o seu olhar teórico, posteriormente muito debatido e criticado, que se refere a existência de uma “democracia racial” no Brasil. Sem ser nosso objetivo, neste texto, analisar as críticas e debates lançados acerca das obras do autor, é, todavia, inegável a importância de suas referências na consolidação de um imaginário acerca da sociedade brasileira, seja entendido como positivo ou não. O encontro das três “raças” (brancos, negros e índios) marcaria a miscigenação do povo brasileiro, contrastando com outros povos, como os europeus. E, como exemplificação da teoria, o futebol se evidenciou como uma das manifestações culturais utilizadas por Gilberto Freyre para explicitar seus pensamentos (tal como o samba, a capoeira, entre outros).
Anos depois, Mario Filho, que hoje dá nome ao Estádio do Maracanã, publicou o livro “O negro no futebol brasileiro”, onde dialogou com esses referenciais teóricos de Freyre. Inclusive, na primeira edição da obra em 1947, o prefácio foi escrito pelo próprio Freyre. A tese de Mario Filho/Gilberto Freyre passava por essa ideia de que o encontro de raças e a presença do negro teriam sido fatores positivos para o futebol brasileiro, pois faria com que se diferenciasse do “frio” e “tático” futebol europeu.
Essa narrativa ganhou sua exacerbação a partir da conquista dos mundiais de 1958, 1962 e 1970, tendo tido como destaques jogadores negros e/ou mulatos, como Pelé, Garrincha, Didi, entre outros. Após o fracasso de 1950 e a culpabilidade pela derrota construída posteriormente e dada a atletas como Barbosa, Bigode e Juvenal, a conquista do tricampeonato em doze anos fez com que a narrativa freyriana, difundida na mídia por Mario Filho e espetacularizada por diferentes cronistas, como seu irmão Nelson Rodrigues, ganhasse força e consolidasse a ideia do Brasil enquanto país do futebol.

Após a Copa de 1970, iniciou-se os primeiros momentos de “crise”, acerca do “tipo brasileiro” de jogar futebol. Com um futebol mais tático e burocrático, o Brasil não venceu os mundiais de 1974 e 1978, mesmo não fazendo campanhas ruins. Porém, o 4º lugar de 1974 e o 3º em 1978 (sem perder um jogo!), não se tornaram mais marcantes que o 5º lugar de 1982. Tudo pelo retorno do “verdadeiro futebol brasileiro”, como destacou a imprensa da época, narrativa consolidada e difundida até os dias atuais. Não podemos negar o quanto a prática ajudou a referendar esse discurso. Com um selecionado recheado de craques e, mesmo com as pressões por “tirar os pontas” do esquema tático da seleção, Telê Santana conseguiu estabelecer um padrão de jogo mais técnico à equipe, semelhante ao que se via de 1970 para trás. O resultado negativo naquela Copa foi um choque, tanto para aqueles que acompanhavam o futebol brasileiro, quanto para a própria identidade da seleção que buscava “jogar novamente o futebol arte”. Seja ou não esse um discurso, tratava-se de algo presente nos debates acerca do selecionado nacional brasileiro, notadamente na grande mídia e no senso comum.
Essa busca pelo futebol arte foi se tornando constante mas, em muitas ocasiões, também distante, devido o processo de mercantilização do futebol que se consolidou com força total a partir da década de 1980. Como falar de uma identidade de jogo brasileiro, se nossos principais jogadores já não atuam mais no país? Foi nesse cenário de transição que o Brasil, ainda com Telê, tropeçou em 1986 e, já sem ele, decepcionou em 1990, com uma seleção armada por Sebastião Lazaroni com três zagueiros e que “desconstruiu o modo brasileiro de jogar futebol”, tal como se falava na imprensa. A questão é: temos de fato uma forma de jogar futebol? É possível manter um modelo “raiz” de se jogar, enquanto outras escolas vão avançando taticamente e tecnicamente? São questões para pensar. O fato é que, em 1994, com um time mais “burocrático” e comandado por um inspirado Romário (que desde 1988 já atuava no “Velho Mundo”), o selecionado voltou a conquistar uma Copa depois de 24 anos, mas não convenceu aqueles que buscavam reencontrar o “futebol arte”.
Todavia, a tentativa por essa busca não se encerrou. Retornou com Ronaldo fenômeno, naquele período ainda denominado Ronaldinho, mas esbarrou na sua estranha convulsão na Copa de 1998. Voltou em 2002, cheio de dúvidas e percalços, e encheu de esperança aqueles que clamavam pela volta do “verdadeiro” futebol brasileiro, a partir da conquista do penta comandado pelos três “Rs” (Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo).

2006 seria o ápice. A efetivação do retorno desse “verdadeiro” futebol brasileiro, como afirmavam na mídia. E o cenário prévio destacava isso. Além de ser a então campeã mundial, a seleção brasileira havia conquistado uma Copa América (2004) e uma Copa das Confederações (2005), ambas vencendo a rival Argentina na final. Além disso, consolidou a liderança nas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2006, carimbando o passaporte para o torneio que ocorreu na Alemanha e esbanjando qualidade em campo com o então melhor do mundo Ronaldinho Gaúcho e seus coadjuvantes que, na verdade, dividiam o protagonismo: Ronaldo Fenômeno, Kaká, Adriano “Imperador” e Robinho “pedalada”. Fora a defesa sólida, formada por Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos. Um goleiro campeão europeu (Dida) e volantes que marcavam e, também, jogavam (Emerson, Gilberto Silva e, principalmente, Zé Roberto e Juninho Pernambucano). Um timaço que deixou craques, como o meia Alex, de fora do grupo final da Copa. E que, tal como em 1982, caiu antes do esperado, nas quartas de final para a França (novamente ela…) de Zinedine Zidane e Thierry Henry.
A derrota de 2006 marcou, definitivamente, uma transição no contexto atual do futebol brasileiro: a derrocada da seleção em detrimento da preparação e planejamento das grandes equipes europeias. Equipes essas que apostaram em longos trabalhos para colherem frutos. Casos como os de Joaquim Low, desde 2006 na Alemanha; de Didier Deschamps, desde 2012 treinando a França; ou de Vicente del Bosque, que comandou a Espanha de 2008 a 2016.
O planejamento passou a ser o caminho para mesclar, no mundo globalizado do futebol, a tática com a técnica. E o Brasil, nesse processo, ficou para trás. Ficou com Dunga em 2010 e com Felipão em casa no ano de 2014, com o inesperado jogo do 7×1. Curiosamente, desde então, a Copa em que o Brasil chegou mais longe foi exatamente em 2014, quando em casa alcançou as semifinais e saiu derrotada de forma vergonhosa para a Alemanha. Em 2006 e 2010, a equipe não ultrapassou as quartas de final (fato repetido agora em 2018).

Mais do que derrotas, não se enxergava mais um caminho de melhoras para a equipe nacional, que cada vez mais perdia força com seus aficionados. Questões mais centrais e problemáticas saltaram aos olhos do povo brasileiro, que viu no futebol, no máximo, uma forma de protestar contra algumas das injustiças sociais que passa diariamente. E quando olhavam para os dirigentes da CBF e de determinados clubes de nosso futebol, envolvidos em diferentes escândalos, o desinteresse aumentava.
Após um 7×1 e duas eliminações seguidas na Copa América, perdendo para Paraguai e Peru, a aposta no nome de Tite pareceu ser aquela que poderia “salvar” a seleção e nos reservar, pelo menos, dias melhores, recuperando o prestígio da equipe canarinho. E, até a Copa, talvez seja notório falar que o resultado foi muito além do esperado, culminando com a liderança isolada nas eliminatórias sul-americanas e a classificação antecipada para a fase final da Copa, após pegar um grupo desacreditado que estava em sexto lugar na disputa.
Seria assim o Tite, de fato, o salvador da pátria? A derrota para a Bélgica demonstrou, para muitos, que não, passando esses a exigir a saída do técnico do comando da seleção. Para muitos outros, o trabalho demonstrou avanços, sendo o mantimento fundamental para a continuidade do que vem sendo feito, visando saltos maiores no futuro.
De fato, os feitos nas eliminatórias e o resgate, pelo menos no campo simbólico, do valor do selecionado nacional na “Era Tite”, foi inegável. Mas não foi o suficiente para ganhar a Copa. Pelo menos não ainda. Esqueceram de avisar ao Tite que, assim como os estaduais não são parâmetros para a disputa do Brasileirão, as eliminatórias não garantem o sucesso na fase final da Copa. O treinador brasileiro demonstrou que, mesmo buscando se “profissionalizar aos moldes do tático futebol europeu”, não foi capaz de derrotá-los taticamente. Muito pela própria teimosia em não ousar.

O ditado “em time que está ganhando não se mexe” nunca se demonstrou tão equivocado, como no jogo do Brasil contra a Bélgica, seleção que honrosamente garantiu o 3º lugar na Copa ontem, sua melhor colocação na história dos mundiais. Tite, que ganhou tudo no âmbito dos clubes no Brasil, esqueceu que a Copa do Mundo era um torneio curto, diferente de um Brasileirão de 38 rodadas. E que cada adversário deveria ser estudado cautelosamente. Fora algumas convocações extremamente contestáveis, insistir em manter atletas como Gabriel Jesus e Paulinho em campo, após sucessivas atuações irregulares na competição, não só foi um tiro no pé como uma forma de queimar a imagem dos próprios atletas. Com Firmino no banco, Gabriel Jesus poderia ter sido preservado aos 21 anos e não ficar taxado pela imprensa como o “centroavante que não fez gol na Copa”. E Paulinho talvez não precisasse retornar para o futebol chinês (por mais que venha a receber, agora, até mais do que ganhava para ser reserva no Barcelona).
E o que dizer do Neymar? Jogador de talento indiscutível, mas que de longe ainda não é o melhor do mundo, como almeja ser. Nem dentro, nem fora de campo. O lado psicólogo do Tite, quase no estilo “autoajuda” também falhou, pois se uma de suas tarefas mais elogiadas na mídia era a de “recuperar” a vontade dos atletas de jogarem pela seleção nacional após sucessivos fracassos, se esqueceu de moldar, para o melhor atleta tecnicamente falando, um caminho em que esse não tomasse atitudes que fossem reprovadas e buscasse, com trabalho, fazer a diferença que todos sabem que possui a capacidade de fazer. Mas não o fez. Muito pelos mimos e acolhimentos (como na fala do coordenador técnico Edu Gaspar, após a eliminação) que não condizem mais com as responsabilidades de um atleta global aos 26 anos. Se frases como “o menino Ney” ou “é muito difícil ser o Neymar” fossem substituídas por trabalho sério (tal como Cristiano Ronaldo faz em campo a cada dia que recebe uma crítica), talvez o resultado e a construção de imagem, pelo menos no aspecto individual desse atleta, poderiam ter sido diferentes, o fazendo superar a “síndrome de Peter Pan” e, finalmente, amadurecer enquanto jogador e pessoa. Torcemos que, pelo bem dele e do selecionado nacional, essa experiência da Copa de 2018 tenha servido, minimamente, para fazer uma reflexão.

Roberto Martínez, técnico da Bélgica que assumiu a seleção em período similar ao Tite no Brasil (em 2016), entendeu que em time que ganha, se precisar, se mexe sim. E foi com um nó tático que conseguiu derrotar o Brasil. Se fosse por resultados, teria tantos motivos como seu colega brasileiro para não mudar seu grupo titular. Afinal, vinha de ótima campanha nas eliminatórias e 100% de aproveitamento até então na Copa. Porém, entendeu que, contra o Brasil, teria que mudar o seu 3-4-3. Reforçou seu meio campo com a entrada de Fellaini, adiantando De Bruyne, um dos craques do time, para fazer um trio de ataque com Lukaku e Hazard. Lukaku que antes atuava centralizado, jogou pela direita e foi fundamental no combate e arrancadas contra a zaga brasileira.
Era um 3-4-3 que, defendendo, virava 7-3, com o retorno dos alas e volantes. E o Brasil de Tite, que não quis mudar, ou mudou muito tarde, não ultrapassou a barreira belga, mesmo nos momentos em que esteve melhor em campo. Um verdadeiro nó tático daquele que ousou mudar por estudar o adversário. E por ser menos teimoso.
Roberto Martínez deu continuidade ao trabalho de Marc Wilmots em 2016, marcando uma continuidade que moldava uma geração de talentos desde 2012. Joaquim Low está no comando da seleção alemã desde 2006. Deschamps desde 2012 na França, pode hoje alcançar o ápice com o título mundial. Oscar Tabárez treina o Uruguai desde 2006, conseguindo levar a celeste de volta a disputas importantes no futebol, alcançando uma semifinal de Copa em 2010, as quartas nesse ano e um título inesquecível da Copa América em 2011, depois de 16 anos. Até mesmo o trabalho de José Pékerman a frente da Colômbia, onde está desde 2012, deve ser valorizado, pois mesmo sem títulos, levou a equipe de volta aos mundiais depois de 16 anos, disputando duas copas seguidas (fato que não ocorria desde os anos 1990) e alcançando campanhas honrosas tanto em 2018 quanto em 2014 (que foi a melhor da história do selecionado colombiano).
Não sei se nos próximos dias será anunciado o mantimento ou a saída de Tite enquanto técnico da seleção. A continuidade parece ser o caminho mais provável. Pessoalmente, acredito que a seleção teve avanços e que, corrigir os erros, pode ser mais fácil do que recomeçar um trabalho do zero. Mas o primeiro ponto é assumir esses erros e reconhecer que está, ainda, muitos passos atrás de outros treinadores e equipes. E estar pronto para fazer mudanças e ousar. O fato é que, o ideal, independente de ser ou não o Tite aquele que irá comandar a seleção nacional daqui para frente, deve-se dar tempo para a realização do trabalho. E, também, compreendermos que, mais que o técnico, nosso problema maior está nos bastidores sujos da CBF, onde enquanto estivermos sendo controlados por “Teixeiras” e “Marins”, continuaremos em uma crise estrutural que vai muito além da simples escolha do treinador e/ou dos jogadores.
BIBLIOGRAFIA
FREYRE, Gilberto. Foot-ball mulato. In: Diário de Pernambuco, 18 de junho de 1938.