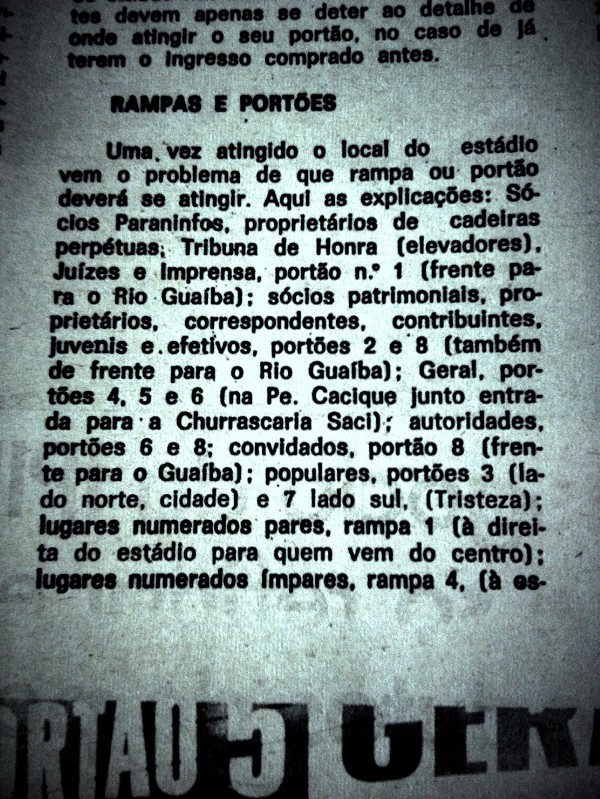[Como a Coréia morreu antes do novo acordo ortográfico que suprimiu os acentos de alguns ditongos abertos, usaremos no texto a acentuação dos tempos da personagem desta reportagem]
Tenho quase certeza de que o ano era 1994. Portanto, Mazinho Loyola e Leandro Machado eram as ralas esperanças do ataque colorado. E eu não tinha mais do que 8 anos de idade. Não lembro contra quem era a partida, mas sim que era uma noite fria e que, quando chegamos à bilheteria do Beira-Rio, poucos minutos antes de a bola rolar, meu pai ainda não havia comprado os ingressos. Na fila, uma montanha de casacos disputava espaço desorganizadamente. Meu pai preferiu enfrentar a multidão sozinho e me deixou esperando num canto seguro. Criado a muito leite com Nescau, meu metro de altura permaneceu firme… até que apareceu um senhor baixo, com boca grande, sob um boné com a estampa de um Saci, símbolo do Internacional. Era uma figura muito similar à qual, agora sei, representava os torcedores colorados nos jornais gaúchos desde, pelo menos, a década de 60. Ou seja, um homem negro.
– Ô, piá! Me consegue 2 pila para eu entrar no jogo?!
Talvez tenha sido a primeira vez que alguém me pedia dinheiro. Tremi. De todo modo, o Inter era a coisa mais importante da minha existência até então. Lembro de rapidamente pensar algo como: “um colorado tem que ajudar um colorado!”. Botei a mão no bolso e, lá dentro, separei duas das cinco notas de R$ 1 que recebia de semanada. Num passado nem tão distante, uma esmola era suficiente para entrar no estádio. Ele abriu um sorrisão desdentado.
– Dale, Colorado!! Te vejo da Coréia, piá!!
Da Coréia, não seria fácil me ver. Eu, filho de médico, sentava nas cadeiras, no anel superior. Raramente, nas sociais, no anel inferior, quando aí sim podia ficar mais perto desse outro mundo chamado Coréia do Beira-Rio, construído num anel inferior ao inferior, na altura do gramado. Olhava intrigado e pensava: “nem das pontinhas dos pés deve dar para ver alguma coisa dali”. Luis Fernando Veríssimo escreveu semelhante.
“O frequentador da Coréia é o único torcedor autêntico do futebol. Não é o espetáculo que o atrai. Dali onde ele fica não se vê espetáculo algum. A única visão desimpedida que ele tem é dos fundilhos do bandeirinha. O resto ele adivinha. O coreano está ali porque tem que estar. Seu compromisso não é com o jogo, que ele não vê, é com o time. Como não enxerga os detalhes, vive apenas os momentos decisivos do jogo, as grandes explosões. O resto é uma angústia cega, de pescoço esticado”. (LFV)

– Graças a Deus, eu sempre fui um privilegiado. Eu tenho apelido de Zecão, de João Grandão, de Gigante. Eu tinha quase um metro e setenta de altura com dez anos. Depois cresci bem mais. Então, eu conseguia assistir tudo, nem precisava sentar no ferrinho.
O ferrinho a que José Carlos Oliveira, o Zecão, se refere eram os gradis que separavam a Coréia do mundo exterior. O espaço ficava entrincheirado entre os outros setores da torcida colorada e o fosso — que, por sua vez, antecedia o campo de batalha, o gramado. Arames farpados revestiam os ferros e impregnavam ali um visual hostil. O nome do espaço — embora sem confirmações convincentes, nem mesmo dos historiadores mais graduados — também remetia à guerra.
Para alguns, como o jornalista Ruy Caros Ostermann, o ambiente seria tão tenso que o torcedor estaria posicionado entre as Coreias do Sul e do Norte, em permanente conflito oficial. O jornal Zero Hora, em matéria que anunciou o fechamento da Coreia, em maio de 2004, trouxe explicação semelhante: o nome teria sido importado do Maracanã nos anos 50, em razão das brigas entre torcidas no setor popular do estádio carioca, na mesma época em que as Coreias guerreavam entre si.
Já entre os coreanos colorados corre uma versão que, segundo este repórter, faz mais sentido. Como nas primeiras décadas do Beira-Rio a Coréia era a única parte do estádio onde não havia separação de torcida no Grande Clássico, os grenais no setor ocorriam em estado de exceção, em uma espécie de zona desmilitarizada. E aí, sim, estaria a referência às Coreias ou à Zona Desmilitarizada da Coreia, um território onde norte e sul-coreanos, teoricamente, podem conviver. A história mostra que, diferentemente dos xarás asiáticos, a Coréia do Beira-Rio promoveu mais paz do que guerra em seus 35 anos de história. O estereótipo belicista seria, então, apenas a impressão de fachada, não confirmada por quem habitava o reduto como se sua segunda casa fosse.
– Era um clima de paz. O que mais a Coréia gera na minha memória — e o que me mata de saudade — são as amizades, a união, aquele povo popular, aquela massa de pequeno poder aquisitivo que se abraçava e fazia a gente se emocionar. Infelizmente, um dia começou o boato [de que fechariam a Coréia] e a gente não fez nenhuma manifestação. Eu não ouvi dizer de nenhum torcedor que fez, em algum lugar, em alguma rádio ou televisão, algum protesto.
– Te arrepende por isso, Zecão?
– Me arrependo muito! Como o Inter é um clube popular, deveria ter acontecido um plebiscito entre os torcedores, nem que fosse entre os associados do clube. Que se fizesse uma eleição para saber o que eles achavam do fechamento da Coréia. Eu tenho certeza que o associado do Sport Club Internacional iria votar a favor da Coréia. Me arrependo direto e reto de não ter me manifestado.
O Beira-Rio como identidade colorada
O estádio dos Eucaliptos, palco das grandes vitórias do Rolo Compressor dos anos 40 e das partidas da Copa do Mundo de 50, tornara-se obsoleto diante da imponente presença do Olímpico, inaugurado em 54 pelo Grêmio, a menos de dois quilômetros dali. Era preciso dar uma resposta, não só por uma questão de ego, mas porque o estádio gremista trouxera a reboque anos gloriosos aos tricolores, que empilharam títulos gaúchos ao deixarem o elitista bairro Moinhos de Vento para se fixar em território bem mais popular de Porto Alegre — no caso, as vizinhanças da Azenha e do Menino Deus, no caminho à Zona Sul da Capital. Foi uma jogada de sobrevivência da direção do Grêmio que, mais do que mudar de região, aboliu a proibição que, tardiamente, ainda impedia que negros jogassem com a camisa tricolor. Tesourinha, em 52, foi o primeiro “jogador de cor” (reconhecido como tal, inclusive pela direção e pela imprensa) a atuar pelo clube, a despeito de outros jogadores de tez escura já terem defendido o escudo porto-alegrense em décadas anteriores.
No Grêmio, o pioneirismo do ex-ídolo colorado abriu o caminho por onde passaram muitos outros descendentes de africanos, alguns dos maiores ídolos tricolores, casos de Aírton Pavilhão e Alcindo (maior goleador da história do clube). Embora haja uma carência de estudos que demarquem definitivamente esses processos, é sabido que tais medidas ajudaram a tornar o perfil do torcedor gremista mais plural, menos elitizado. Em outras palavras, mais negro. A rivalidade se instalava também, pois, nas vilas de Porto Alegre, antes reduto preferencialmente colorado.
De toda a maneira, em charges de jornais gaúchos, ainda era o torcedor do Internacional que carregava como estereótipo um sujeito negro, de boca grande, cabelo duro e um preconceituoso mau português, como no caso do desenho de despedida do torcedor colorado do Estádio dos “Ocalípios” em edição da Folha Esportiva em março de 69.
O projeto do Beira-Rio, portanto, além de significar a construção de uma nova casa, carregava a necessidade e a oportunidade de reforçar uma identidade, recuperar um espaço perdido. Para além de voltar a ser vencedor, a narrativa a ser criada era a de um clube verdadeiramente plural, Internacional: de brancos e negros, pobres e ricos. Para isso, foi fomentado, em cada colorado, um inspirador sentimento construtor e colaborativo. Eram doações de todas as formas, trabalho no amor. O grupo de profissionais, nata da engenharia gaúcha que se dedicou a levantar o estádio, foi chamado de “Retaguarda” pela Folha Esportiva de março de 1969. “Esta retaguarda deu um bilhão de cruzeiros para o Gigante” foi a manchete de uma reportagem que calculou quanto o Internacional economizou apenas por contar com profissionais renomados que abdicaram de seus honorários.
Lúcio Regner é uma dessas figuras. Dos 23 personagens, todos homens, que assinaram a obra do Gigante da Beira-Rio, é um dos três ainda vivos. Hoje, presidente da Fundação de Educação e Cultura do Internacional, é o único que ainda dá expediente no estádio, mais de meio século depois que parte do Guaíba começou a se tornar um dos mais importantes palcos do futebol das Américas.
– Eu comecei quando a água batia na avenida Padre Cacique, na mão de lá.
Regner era um engenheiro civil ligado ao automobilismo. No final da década de 50, estava liderando a construção do autódromo de Tarumã, em Viamão. Desembarcou daquela obra quase no fim, por discordar de questões técnicas (especialmente, de segurança, segundo ele) impostas pela Federação Gaúcha de Automobilismo. Uma crise renal do engenheiro Ruy Tedesco — presidente da Comissão de Obras do Beira-Rio e cabeça maior de sua construção — deu a Regner a oportunidade de ajudar a construir o estádio do seu time do coração.
– Eles pensaram que iam me contratar. Mas, não, eu quis trabalhar de graça. O projeto era muito modesto no início. O estádio, inicialmente, seria um anel, quase uma elipse. Depois, essa elipse foi aumentada em seu eixo maior, para aumentar a capacidade.
Durante uma hora em sua sala na presidência do FECI, o colorado de 78 anos mostrou uma invejável memória para lembrar com detalhes da obra que lhe dá tanto orgulho. Ele garantiu à reportagem que um espaço popular no estádio foi concebido tão logo o projeto cresceu de magnitude. A inspiração vinha do Rio de Janeiro.
– Desde o início, a gente pensou na parte Popular. O Maracanã tinha. O que eles chamavam de Geral era uma Coréia. Eu assisti a jogos lá antes que o Gigante da Beira-Rio existisse. Nós tivemos o torneio José Gomes Pedrosa, onde o Internacional foi duas vezes vice-campeão. Em Porto Alegre, nós jogávamos no Olímpico, enquanto nosso campo estava em construção. Quando íamos ao Rio, era no Maracanã. Assisti a partidas memoráveis, mas meus recursos só me permitiam assistir da Geral. Era aquela parte mais plana, uma escora acima do campo. A inspiração veio disso. Era o maior estádio e a gente sempre procurava superá-lo em alguns quesitos, algo que não conseguimos. Mas fizemos um grande estádio. Para época, recebia comodamente sentados 86 mil espectadores. Botando 15 mil da Coréia, chegava a 101 mil espectadores. Na época, nós tínhamos (e ainda temos) um resíduo de pessoas marginalizadas da sociedade. E não estou fazendo nenhuma apologia política aqui. A Coréia só não foi mais ampla por conta da teimosia de também se construir uma pista de atletismo. Ela não era olímpica. Um arroubo do Dr. Ruy. O Grêmio tinha o Estádio Olímpico, e ele queria ter um estádio olímpico também.
Para entender ainda mais profundamente a história da Coréia, mais do que preservar o que dizem os engenheiros, é preciso jogar luz sobre os peões — milhares de colorados pobres que doaram, além de pequenas quantidades de tijolos e material de construção, sua força de trabalho, como pedreiros de um sonho. É o caso de seu Felício Lemos de Oliveira, pai de José Carlos, o Zecão.
– Meu pai trabalhava direto e reto com o engenheiro principal da obra do Beira-Rio [Ruy Tedesco]: de segunda a sexta, em várias obras pela cidade; no sábado e domingo, os colorados que trabalhavam com ele eram convidados a fazer hora-extra no Beira-Rio… só que de graça!
Assim, em abril de 1969, o Gigante da Beira-Rio nasceu, filho legítimo de tantos pais e, certamente, muitas mães também. Aqueles que passaram para a história com nome e sobrenome sentaram em cadeiras confortáveis, sob a proteção do sol e do vento forte da beira do rio. Mas o estádio construído pela energia de anônimos torcedores também quis acolher, dentro dele, um espaço para o povo do Clube do Povo do Rio Grande do Sul.
– Nunca passou pela nossa cabeça não ter essa Coréia — reforça Regner.
Aqui é necessário parar para uma reflexão. A existência da Coréia em si não é suficiente para afastar do Inter qualquer acusação elitista — ou, para ser mais incisivo, racista — que se possa fazer sobre procedimentos do clube ou de seus torcedores, assunto caro para o desporto de Porto Alegre desde os primórdios dias. Um dos mais importantes pensadores do futebol gaúcho, o antropólogo Arlei Damo, ressalta que a Coréia é mais um elemento que apenas diferencia o racismo existente — ainda hoje — no Internacional daquele em vigor no Grêmio. Os tricolores, de influência alemã, exercem um racismo anglo-saxão, mais nitidamente segregatório. Já opressão colorada é de modelo luso-brasileiro.
– O Inter desenvolveu um racismo tipicamente à brasileira, ou seja: conviver com os negros, desde que eles se mantenham na senzala, não tem ‘problema’ nenhum. Você tinha negros no estádio, mas você não os encontrava na cadeira cativa, no Conselho Deliberativo, na diretoria. Mas, na Coréia, sim; lá na parte menos nobre do estádio, não havia problema. Na lógica do racismo à brasileira, que é um racismo inclusivo, aquilo caía muito bem. Não tem nenhuma pesquisa que comprove que exista um pertencimento dos negros gaúchos, em sua maioria, ao Inter. Poderia se fazer a pesquisa no presente, e eu acho que os autodeclarados negros tenderiam a se inclinar mais para o Inter do que ao Grêmio.
Jornais da época da inauguração do Gigante da Beira-Rio, em abil de 1969. Fotos: Reprodução/Museu de Comunicação Hipólito José da Costa
“São nove degraus, com oito centímetros de altura e 49 centímetros de comprimento cada”.
Nos jornais da cidade, em abril de 1969, o espaço da Popular — nome oficial da Coréia do primeiro ao último dia de sua existência — era apresentado de uma maneira absolutamente técnica que, se era capaz de descrever espacialmente aquele cimento, não conseguia prever as emoções que ele viveria nos seus próximos 35 anos. No dia da estreia, 16 mil e 200 colorados pagaram Cr$3 cada (dez vezes menos que o preço da cadeira numerada), para ter acesso aos portões 3 e 7, entrar na Coréia, se apinhar em pé e, finalmente, esticar o pescoço para assistir a Claudiomiro balançar as redes do Beira-Rio pela primeira vez.
O coreano, sobretudo o de baixa estatura, tinha que agir como um atacante ágil para driblar os obstáculos e conseguir assistir à partida. Primeiro era necessário vencer o muro que antecedia o fosso, depois os jornalistas, as placas de publicidade, os bancos de reservas, jogadores suplentes em aquecimento, o bandeirinha, policiais e seus cachorros. Enfim, tudo o que fica ao redor do campo. Lúcio Regner admite: os baixinhos sofriam.
– Havia dificuldades. A pessoa que assistia antes do fosso, se apoiando no peitoril, no cano de ferro, tinha a visão de apenas 30 centímetros acima do nível do gramado. Como o gramado era levemente mais alto no centro, caindo 15 centímetros para cada corner, para o escoamento natural da água, mais a drenagem (que eu ajudei a fazer), ele [o coreano] às vezes não via o diâmetro da bola no corner oposto.
– Não tinha como fazer a Coréia mais alta em relação ao gramado?
– Não tinha, porque aí você iria fazer com que a cabeça do último degrau saísse além da cortina que separava a Coréia da Social e da Geral. E ali, essas pessoas teriam que estar sentadas.
Em toda a década de 70, o coreano foi quem testemunhou mais de perto fantásticas equipes do Inter, algumas das maiores gerações da história do futebol brasileiro. O pobre de Porto Alegre encontrava na Coréia um refúgio, o lazer ideal de um domingo. Para melhorar, por três vezes pôde viver ali a decisão do Campeonato Brasileiro. Em 75, Figueroa e o gol iluminado sobre o Cruzeiro. Em 76, o golaço de falta de Valdomiro sobre o Corinthians. Em 79, a coroação da década, invicto sobre o Vasco e todos os outros times daquele ano.
“Todas as outras misérias da vida do coreano lhe são impostas, esta [a Coréia] é a única miséria que ele escolhe. Porque — é difícil falar nele sem cair na pior literatura — é a única que lhe dá uma sensação mínima de redenção. O gol, a explosão, o seu instante semanal de triunfo. O resto da sua vida é sempre zero a zero”. (LFV)
Havia, é certo, uma devoção religiosa à Coréia. Se, na literatura das ciências sociais, o espaço do estádio tantas vezes foi comparado ao de um templo ritualístico de figuras santas e demoníacas, o que acontecia naquele pedaço específico do planeta, para os colorados pobres, se parecia ainda mais com um culto. Eduardo Galeano, talvez o mais importante escritor do futebol das Américas, deixou registrado algo semelhante: “Embora o torcedor possa contemplar o milagre, mais comodamente, na tela de sua televisão, prefere cumprir a peregrinação até o lugar onde possa ver em carne e osso seus anjos lutando em duelo contra os demônios da rodada”.
Zecão é hoje um devoto sem templo, órfão confesso da Coréia do Beira-Rio. Frequentou o espaço por 34 anos, de 1970 a 2004, quando ela fechou. No começo, era levado ao setor pela mão de seu pai. A razão? A da maioria.
– Naquela época, já era meio salgado para a gente que era assalariado, sabe? Meu pai não era bem, né?… Não era bem financeiramente. E o ingresso da Coréia era mais barato que as quatro passagens do Juca Batista (linha que liga a Zona Sul ao centro) que a gente gastava para ir e voltar. Da Coréia, vi todas as finais de Brasileiro. Quando o Valdomiro chutou aquela bola na final de 76, eu abracei quatro ou cinco perto de mim. Eu consegui sentir o gol antes dele acontecer, era a vontade que eu tinha de ser campeão. A gente tinha fé, confiança, time… e uma torcida maravilhosa! Tinha preto, tinha branco, tinha bêbado, tudo misturado, graças a Deus!
Com os olhos brilhantes sob imensos óculos de grau, sentado em frente à sua casa, nas mesmas cercanias da avenida Juca Batista onde nasceu e cresceu, Zecão, hoje com 56 anos, profissional de corte de grama, seguiu por horas detalhando suas memórias.
– A gente pegava umas “coisas ruins” na preliminares, nos juniores, como Paulo César Carpeggiani, Paulo Roberto Falcão. Nem precisava enxergar as partidas de fundo. Pessoal chegava cedo, Coréia cheia.
A década de 70 era a era. Os jogadores, craques. Os torcedores, empolgados. A explosão do gol podia matar.
– Em 1972, um torcedor morreu do coração do meu lado. Inter e Cruzeiro: 3 a 2 para o Inter. Tava 2 a 0 para o Cruzeiro até os 35 do segundo tempo. O Inter virou o jogo em menos de 15 minutos, e o cara não aguentou do coração. O véio foi ali mesmo, na Coréia. O cara caiu durinho do meu lado e do lado do meu falecido pai. O estádio tava cheinho, a Coréia apirrada de gente.
A Coreia lotada e Claudiomiro, autor do primeiro gol do Beira-Rio. Fotos: Acervo da Biblioteca Zeferino Brazil e Arquivo Histórico da Fundação de Educação e Cultura do Sport Club Internacional
Coreanos Organizados
Adriano Nicotti é outro tipo de ex-coreano. Hoje com 29 anos, conheceu aquele espaço em épocas bem menos entusiasmadas da torcida colorada.
– A primeira vez que eu fui na Coréia fui levado pelo meu pai, numa época que o Inter tava muito mal, muito mal mesmo. O que meu pai pensou? “Eu vou ter que mostrar as raízes populares do meu time. Meu time mal e ele não vê essas raízes populares, ele não vai ser colorado”.
A lógica do pai de Adriano deixa claro o cerne desta história. Entre outros muitos, há elementos socioculturais duelando pela escolha do time de cada gaúcho. E ser um clube identificado com os pobres é algo importante na cabeça de muitos colorados — talvez até hoje. A existência — e agora a nostalgia — da Coréia sublinham isso. Adriano e sua turma do bairro Passo D’Areia e cercanias da zona norte de Porto Alegre passaram a ser frequentadores assíduos da Coréia na virada do século, uma época perversa para os colorados.
– Era uma galera que não tinha muita grana para ir para o estádio, então, a gente ficava sempre pingando nas torcidas organizadas [onde havia distribuição de ingressos]. Alguns eram da Nação Independente, alguns eram da FICO… Então, quando alguém não tava vinculado, pintava na Coréia. Até por que a coreia era R$3, né? Pô, a gente ia ver Inter e Esportivo na chuva. Como é que tu vai pagar R$20 para ver Inter e Esportivo na chuva? Tu vai pagar R$3! Então, desculpa o termo, foda-se o conforto, porque, lá na Coréia, tu não via muito o jogo. Você estava mais ali para cantar para o Inter e para meter medo no adversário. Éramos nós que metíamos medo no adversário, não era o resto do estádio. A gente ficava para onde o Internacional atacava, mas não no lado do Guaíba, onde tinha sombra. A gente ficava no sol mesmo. A turma gostava muito do Internacional, só que gostava muito também daquele companheirismo, de estar junto.
Em 2003, Mártin César Tempass estudou os coreanos para seu trabalho de conclusão de curso de Antropologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Nesta monografia, Tempass trouxe opiniões de alguns jogadores do clube à época sobre os torcedores da Coréia.
Do goleiro João Gabriel: “Acho que eles demonstram mais emoção. A gente sabe que eles têm um amor pelo clube e demonstram em todos jogos. Acho que o torcedor da Coréia é um torcedor especial, que a gente dá o maior valor. Tanto é que, quando a gente dá a camisa, alguma coisa, é sempre pro pessoal da Coréia”.
Do atacante Daniel Carvalho: “Eles ficam muito perto da gente, né? Então o cara acaba escutando. Ali, o cara vai cobrar um escanteio, o cara escuta um por um falando. O cara vai bater uma falta e escuta o grito. Quase sempre são os que não têm tantas condições de comprar um ingresso pra ficar melhor colocado, né? Sempre são os que juntam dinheiro durante a semana pra ver se conseguem vir assistir o jogo. A gente reconhece isso. Menos mal, né?”
Do volante Claiton: “São pessoas que têm pouca vantagem em termos financeiros. E vêm em todos os jogos. Ficam ali em pé. Sofrem mais, mas tão ali sempre. Momentos ruins, momentos bons, tão ali ajudando nós. Eu acho que… pra mim, assim… eles são os mais colorados”.
Inter 0 x 0 Fluminense e Inter 1 x 0 Goiás, em 2004. O último jogo da Coreia e o primeiro sem ela. Fotos: Reprodução: Zero Hora
Coreanos órfãos
Desses sentimentos, surgiu na Coréia um movimento de torcidas organizadas no início da década de 2000, casos da Malditos da Coréia e do Primeiro Comando da Coréia. Por outro lado, esse mesmo período ficou marcado pelo início de uma transição nos paradigmas dos estádios e torcidas no Brasil. Fernando Carvalho, presidente do Inter de 2002 a 2006, lembra que a final da Copa João Havelange de 2000, quando um alambrado de uma arquibancada superlotada de São Januário cedeu, foi o marco inicial do debate.
– Depois daquele jogo, nacionalmente, passou a ser exigido mais segurança e mais controle ao acesso dos torcedores, principalmente em relação à distância deles com o campo de jogo. A partir dali, se criou o Estatuto do Torcedor, em 2003. O Estatuto impunha ao clube que se tivesse todas as áreas sentadas e com lugares numerados.
Mesmo com o início de vigência do Estatuto, boa parte da Coréia se manteve aberta por alguns meses, até que órgãos como a CBF e a Federação Gaúcha de Futebol aumentaram a pressão para seu fechamento. Além da Coréia, a importação do modelo europeu “todos sentados” pelo Estatuto foi um duro golpe em setores inteiros de outros estádios brasileiros, como nos casos das gerais do Maracanã, Mineirão e Serra Dourada — todos fechados. Por fim, durante o Campeonato Brasileiro de 2004, o Ministério Público do Rio Grande do Sul ingressou com ação para fechar definitivamente a Coréia e assim o fez, no mês de maio. Como supunha a melancolia, a última partida foi um 0 a 0, contra o Fluminense. Boa parte da torcida, garante Fernando Carvalho, ficou chateada com o desfecho desta história.
– Tinha torcedor que gostava de ficar em pé, tinha torcedor que era supersticioso, que já tinha ganho títulos assistindo dali. Varias manifestações ocorreram, mas a pressão foi grande dos organismos de controle da segurança. Acabamos concordando. Tudo isso significa evolução. A Coréia foi criada num momento em que havia outra ideia de futebol. Com o decorrer do tempo, essa queixa, essa reivindicação, acabou terminando. O Internacional conseguiu ter um grande quadro social, ter espaços populares e isso acabou sendo absorvido.
Sobre espaços populares, talvez Carvalho esteja se referindo a solução encontrada pela direção do clube imediatamente após o fim do fechamento da Coréia, algo confirmado por Adriano, do Primeiro Comando da Coréia.
– O processo de transição não foi tão doloroso porque, quando a Coréia fechou, a direção abriu o setor atrás das goleiras. Como eles abriram com o mesmo valor de R$ 3, para nós, ali seria o setor popular. Nós entramos e fomos fazer a nossa festa ali. Ouso dizer, inclusive, que esses movimentos que foram para ali são os pioneiros da torcida Popular [maior organizada do Internacional na última década]. Claro que depois o valor do ingresso aumentou violentamente!
E põe violência nisso. Em 2011, Mathias Inacio Scherer foi mais um a publicar um estudo sobre a Coréia em seu trabalho de conclusão de curso. Neste caso, na faculdade de História da UFRGS. Entre outros aspectos, ele pesquisou o aumento do preço dos ingressos no Beira-Rio de 1992 — ano do título da Copa do Brasil do Inter — até 2010, data do segundo título da Libertadores do clube. Os números são impressionantes.
Se em 2004, último ano da Coréia, a Popular custava apenas R$3 em jogos do Brasileiro (1,15% do salário-mínimo da época), no ano seguinte, o mesmo ingresso mais barato do estádio já estava R$10 (3,33% do mínimo). Em 2007, esse valor já era de R$25 (6,57% do mínimo). Em apenas três anos, justamente naquele período de maiores glórias da história do Internacional, o valor mais barato do estádio subiu mais de oito vezes. Uma outra comparação, com o valor da cesta básica é ainda mais chocante.
Em dezembro de 1992, quando da final da Copa do Brasil, o ingresso para a Coréia custava Cr$15.000,00. Isso equivalia a 1,38% do valor da cesta básica (Cr$ 1.086.394,00). Dezoito anos depois, na final da Libertadores de 2010, o ingresso mais barato do estádio, na arquibancada inferior, teve o preço de R$100,00, enquanto o valor dos produtos da cesta básica somava R$235,65. Ou seja, o ingresso mais barato da final significava 42% do valor da cesta básica.

Associação em massa. Quem pôde?
Concomitantemente ao encarecimento dos valores individuais dos ingressos e talvez em razão disso tudo, houve um massivo processo de associação ao clube. A partir de 2006, praticamente todos os frequentadores do estádio com alguma sobra financeira viraram sócios do Inter — entre outros motivos, porque a carteirinha tornou-se a maneira mais barata de comparecer a todos os jogos. Hoje a mensalidade que garante acesso livre às partidas no novo Beira-Rio, agora remodelado para a Copa do Mundo de 2014, custa R$ 100 reais. Para Zecão e tantos outros, não está fácil.
– Hoje eu tô inadimplente: 200 pila. Mas eu vou conseguir pagar! Por enquanto, tenho conseguido carteirinhas emprestadas.
Segundo um levantamento do movimento Povo do Clube, corrente recente da política colorada que hoje conta com 16 cadeiras no Conselho Deliberativo, apenas 3% dos mais de 145 mil sócios colorados ganham até três salários-mínimos mensais. Talvez esses sejam os números mais bem acabados que comprovem algo que salta aos olhos de quem frequenta as novas arenas do futebol brasileiro: a elitização do acesso ao estádio.
– A gente sabe que não haverá a volta da Coréia, mas a gente quer que o estádio retorne seu caráter popular. A massificação do quadro social contribui muito para o Inter. R$ 80 milhões por ano vêm do quadro social. É uma receita indiscutivelmente importante para o clube. Mas o quadro social não pode ter essa exclusão.
São as palavras de Ivandro Morbach de 34 anos, estudante de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um desses novos conselheiros do clube. Na década de 90, ele usava bermudas furadas de tanto tentar vencer os arames farpados que dificultavam o pulo da Coréia em direção às arquibancadas inferiores. Para ele, o fechamento do espaço foi o início de um profundo e perverso processo, que se estende até hoje.
– Já se começava a construir um consenso, no Brasil inteiro, de que não poderia mais ter espaço populares, de que tinha que mudar o público, de que tinha que se atrair o público-cliente, aquele que vai para o estádio para consumir, não necessariamente para torcer. E há uma outra pauta, que é irmã gêmea e que a gente também se posiciona contra, que é a criminalização das torcidas organizadas. Ela também faz parte desse projeto de higienização. Hoje as organizadas são o único foco de resistência popular. Onde tem povo pobre mesmo é nas organizadas. Fora não tem mais. Acabaram com a festa nos estádios. Não pode bandeira, faixa, instrumento, papel picado, sequer papel picado pode no Beira-Rio de hoje. O plano é tirar o povo do estádio, tirar as manifestações, e construir a partir daí um novo torcedor: um torcedor que senta, que aplaude, que consome. Só que eles esquecem de dizer que, no Brasil, não há tanto público para isso. Tanto é que se você for ver a média de público no Brasil, ela é muito inferior às principais ligas do mundo.
“O oposto do coreano é o falso torcedor que fica abjetamente em casa acompanhando o jogo pelo rádio ou pela TV. Este é um submergido em detalhes. Sabe exatamente onde está a bola e com quem, e por quê, e que três ou quatro pessoas pensam disto tudo — e mesmo assim está mais cego do que o coreano. O coreano tem o sentimento do jogo, sente na pleura o lance potencialmente explosivo, mesmo que não o enxergue. O torcedor de casa, bombardeado por detalhes, não sabe distinguir o essencial do acessório e acaba torcendo pela entonação do locutor ou pela teoria do comentarista em vez de pela jogada real”. (LFV)
Para deixar toda essa história mais caricatural, no Beira-Rio pós-Copa, há um setor que é uma vastidão de lugares vazios, cerca de 5 mil lugares VIPs, que, durante os próximos 18 anos, serão de exploração da Andrade Gutierrez, construtora da obra recente e parceira do clube na administração do estádio. Nem mesmo na semifinal da Libertadores de 2015 contra o Tigres (ingressos mais baratos para o setor a R$250), o espaço foi ocupado. A situação indigna ex-coreanos como Zecão.
– Os caras que estão na direção de um clube de futebol do tamanho e da importância do Sport Club Internacional não podem se dar o luxo e o bel prazer de ter cinco mil, até dez mil lugares, que não amontoam ninguém porque é, na média, R$ 150 o ingresso de um jogo de 90 minutos. Ninguém ganha 50 conto a hora. Aí você vai pagar por uma hora e meia 150 conto? Pela amor de Deus! Isso que é a minha revolta! Nessa parte que eles tão vazios, eu gostaria que o povo fosse liberado, que fizesse uma negociação com a Gutierrez. Gastaram R$ 28 milhões com o Anderson. Nada contra o Anderson, mas oferece R$ 50 milhões na mão da Gutierrez e dá aquele lugar para o torcedor do Inter.
O retorno dos ex-coreanos ao estádio é questão de honra para o movimento Povo do Clube, que tem uma outra proposta, mais detalhada. Nela, os torcedores pobres não ocupariam o espaço da Andrade Gutierrez, mas sim as áreas livres, as mesmas que os outros sócios frequentam atualmente. Quem explica é o conselheiro Ivandro Latino.
– Sócio Clube do Povo, esse é o caminho. Mensalidade de R$ 10 e R$ 10 por jogo, voltado para o povo que tá excluído do Beira-Rio e que comprove que ganhe até dois salários-mínimos por mês. A proposta está muito bem amarrada. Ela prova por A mais B que, primeiro, tem espaço vazio para colocar esse torcedor de baixa renda e, segundo, é rentável. O Inter vai passar a ter uma receita que não tinha até então. Uma receita-extra que vai vir de um público que é colorado, mas hoje não contribui porque não consegue. Para rejeitar essa proposta, os caras vão ter que dizer que não querem o povo pobre e preto, que tinha antes, sentado na cadeira do Beira-Rio. Vão ter que dizer isso.
O projeto já foi apresentado no Conselho Deliberativo e agora tramita no clube em diversas instâncias, ganhando apoio de figuras importantes, como o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o desembargador José Aquino Flôres, também conselheiro colorado. O ex-presidente Fernando Carvalho é outro nome de peso que também apoia o projeto.
– Acho que dá para compatibilizar, principalmente porque não são todos os jogos que nós teremos a lotação completa do estádio. Acho que eles podem ter uma escala de preferência, criando-se prazos e, no check-in [sistema utilizado hoje em dia], dando-se preferência para quem é sócio há mais tempo ou para quem paga um valor superior. Vejo isso com muito bons olhos.
O retorno de tantos ex-coreanos ao Beira-Rio seria um presente bonito para quem construiu a história deste estádio. Um presente bonito. Mas ainda não seria o ideal, né Zecão?
– A Coréia era… (procura as palavras)… Não era só porque era barato, não era só porque era popular, a Coréia era diferente!
“Mas nem todos os coreanos são iguais. Mesmo entre eles existe uma graduação. Um dia houve um jogo de portões abertos no Beira-Rio. Não me lembro por quê. Quem quisesse poderia sentar em qualquer lugar do estádio, até nas cadeiras. O coreano poderia sentar numa numerada e chamar o garçom que traz o uísque, nem que fosse só para vê-lo de perto. Mas, acredite ou não, tinha gente na “Coréia”. Gente que, com acesso a todo o estádio liberado, se manteve fiel a “Coréia”. Não eram coreanos por fatalidade, eram coreanos por convicção! O lugar deles era ali. Acho que foi nesse dia que eu desisti de entender o mundo. De transformá-lo eu já desistira muito antes”. (LFV)
 Publicado originalmente no Puntero Izquierdo em 2016, que é uma revista digital de publicação de histórias de futebol.
Publicado originalmente no Puntero Izquierdo em 2016, que é uma revista digital de publicação de histórias de futebol.