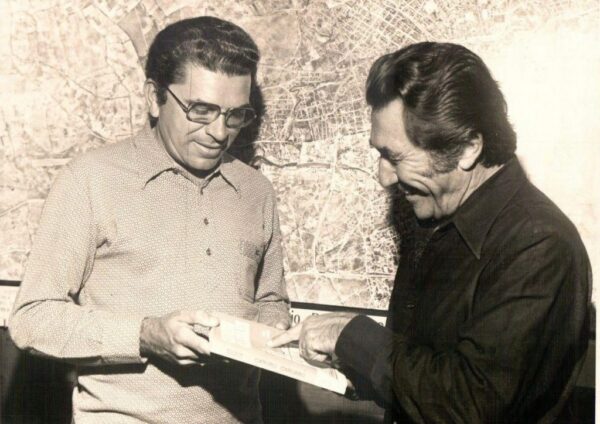Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma bola nos pés
Semanalmente, neste espaço, compartilharei minha experiência de pesquisa de campo em desenvolvimento. O objetivo da pesquisa é criar um documentário com jogadores de futebol em formação, no qual eles mesmos serão responsáveis pela produção das imagens e participarão ativamente do processo de produção do filme.
12 de novembro – 9h – Centro de Formação e Treinamento do Figueirense
Me sinto como uma criança desbravando um velho mundo novo.
É domingo de manhã e depois de dias de tempo chuvoso o sol apareceu. Troquei a praia pelo campo, logo eu, que sonhei em morar dentro do mar, me vejo rodeada de mato e cheiro de roça.
Tem algo em mim que sempre busca por esse lugar.
Acho que quem é do interior desenvolve uma relação afetiva com o cheiro do mato, faz lembrar de casa, mas eu estou longe de Chapecó…
Sentada sozinha na quarta fileira do ônibus, atrás do treinador, preparador físico, massagista e coordenador das categorias de base. Depois do meu assento estão os jogadores que logo mais enfrentarão o Caravaggio, na primeira partida da semifinal da Copa SC sub-21.
Sempre me vejo nesse lugar.
Tem algo em mim que sempre busca por esse lugar.
Não na quarta fileira do ônibus especificamente, mas habitando esse espaço do não-lugar, que tem cheiro de mato e que faz lembrar de casa. Talvez esse seja o problema que não me deixa mais fugir do óbvio: é preciso começar pelo começo.

14 de novembro – Sala do apartamento 104
Acho que para quem escreve é sempre difícil começar.
Foi no ensino médio que me ensinaram a não começar texto “achando” algo. O professor de filosofia insistia que substituíssemos o “acho” pelo “penso” no início de uma resposta. Isso ainda me confunde e por isso mesmo tenho questões sérias com começos. Ao menos para mim, o começo pressupõe a existência de uma verdade absoluta sobre o objeto descrito, e é na contramão que encontro com o pensamento, nos achados e perdidos, sempre plurais.
Não acredito em começo, mas tenho aprendido apreciar os inícios. Entre penso e acho vou construindo minha pesquisa, que ganha expressão quando encontra com os achados e os pensados dos outros.
Gosto do caos que se cria quando tensionamos as palavras, exprimindo o que há por trás, pela frente, pelos lados. Desde que me matriculei na academia tenho buscado forçar o corpo e as letras que dão contorno a ele e as palavras que o formam. Repito-as como um ritornelo que gagueja achismos, pensamentos e pessimismos.
É preciso começar pelo começo? Hoje eu acho que sim.
Não admiti para quase ninguém – parece que dizer isso me coloca na posição de assumir que eu já era fracassada na infância – mas sonhei, de olhos abertos e microfone imaginário na mão, em ser jornalista. Acreditava que esse era o único jeito de estar com as palavras e com as pessoas. Sobretudo, desejei o poder de estar com as palavras. As minhas e as dos outros.
Quando sinto, escrevo. Quando acho, escrevo. Mas quando penso me perco.
Tenho me permitido me perder nas memórias desde que comecei a escrever minha tese de doutorado.
Há anos estudando o futebol e cartografando as linhas dos campos, só agora compreendi de fato a importância que o percurso tem na construção de uma pesquisa. Tem coisa na vida que demanda tempo e caminhada para fazer sentido. Tem coisa que é preciso sentir com o tempo e a caminhada para fazer sentido na vida. Foi assim que um dia depois de oito jogadores das categorias de base se amontoarem na minha sala, para assistirmos Brasil 2002 – Os bastidores do penta, de Luis Ara, que as palavras se amontoaram na minha cabeça e pediram saída.
A imagem tem o poder de dizer coisas que faltam as palavras, às vezes. Fugi de todas as imagens que me fizessem lembrar. Me escondi do cheiro, do mato e de tudo que me remetia ao 29 de novembro de 2016 e fugi para a ilha. Mas aprendi que pesquisar é um processo de encontro com os começos. E tem algo em mim que começou ali, dias depois de Chapecó chorar pelos seus que eram velados no gramado do antigo Estádio Índio Condá.
Não sabia bem o que começava, mas junto da vida dos pais dos meus amigos, do presidente que me dizia “nossa psicóloga”, dos ídolos dos jogadores com quem eu ia para o interior treinar todos os dias, algo padeceu. Nunca senti que tinha direito de dizer algo sobre quem morreu e o que fizeram com os que ficaram. Depois de ouvir a mãe que pediu para ser retirada do lado do caixão porque o cheiro era muito forte, não sentia mais pertencer aos campos que anteriormente me fizeram sentir em casa.
Eu não queria estar em casa, principalmente porque estar em casa para mim era estar no Índio Condá, nunca na Arena. Fui muitas vezes ao Índio Condá com meu pai, lembro dele com o rádio de pilha grudado no ouvido enquanto nós dois subíamos a rua que dá nome ao estádio. Com o meu pai aprendi sobre as duas coisas que mais gosto: futebol e cinema. Minha última memória com ele neste espaço é do dia que antecede a viagem dos nossos para a Colômbia.
A cidade inteira se reuniu nos arredores do estádio para dizer um até logo. Acabou sendo um adeus para tantos. No registro, que faz a memória doer, meus pais aparecem no centro do retrato, com alguns torcedores ao fundo e a arena em construção. Essa foi a única imagem do final do ano de 2016 que guardei como lembrança. Lembro de comer um pedaço de bolo do aniversário da minha mãe logo depois de segurar na mão de uma mulher que chorava a morte do marido.
Foi difícil engolir, o bolo e o choro.
Ainda assim continuei. Guardei quem foi e o que fui em algum lugar no não-lugar e não voltei mais a ele… Até hoje, um dia depois de oito jogadores das categorias de base se amontoarem na minha sala para assistirmos um filme. Eu senti que precisava voltar para um dos meus vários começos para retomar, a pesquisa, a escrita, a vida enquanto torcedora de futebol.
Pela primeira vez, sem pensar e achar muito, escolhi voltar a mim e aquilo que havia deixado, como uma memória encoberta de um tempo ruim. As imagens contam histórias que as palavras deixam escapar. Eu decidi deixar escapar durante todo esse tempo, e agora me vejo aqui, na tentativa de pesquisar e criar com o outro, me vejo voltando para novembro de 2016.
Foi por acaso que o documentário apareceu como sugestão, aceitei e embarquei na viagem do “Dôssie Chapecó”. Não muito tempo depois do play comecei a sentir o arrependimento batendo, tudo ficou pior quando Romário apareceu. Ainda não entendo por que o diretor decidiu que Romário deveria aparecer vestido de branco falando sobre algo que não viveu. Uma angústia me toma quando me dou conta do porquê evitei, por todo esse tempo, revirar e reviver essas imagens… Por que Romário está falando sobre Chapecó? O que ele e todos os outros que escreveram, filmaram e produziram conteúdo sobre a tragédia que levou os nossos sabem sobre a dor dos meus amigos que enterraram seus pais? Eu nunca julguei poder escrever sobre isso, até encontrar com a cena de Romário vestido inteiramente de branco falando sobre a gente, a minha gente.
Continuo repetindo, as imagens e palavras, na tentativa de dar outro sentido a isso. Desligo a televisão depois de ser invadida pelo sentimento de desconforto. Fiz as pazes com novembro de 2016, encarei de frente a imagem e as piores memórias que o futebol me trouxe.
Estou de novo em casa. Muito longe de Chapecó, mas de novo em casa, no lugar do não-lugar onde me encontro, nos campos de futebol. Lugar no qual posso ser uma torcedora de novo quando sinto o cheiro do mato.
As imagens já não me assustam mais, pois agora elas não falarão por nós. Somos nós mesmos quem falaremos, através de palavras, retratos, filmagens. Longe de Romários e homens encenando sentimentos que não experimentaram verdadeiramente. Iremos dizer do futebol que ninguém fala, com nossas mãos, bocas e câmeras. Quem somos nós? Eu e os oito jogadores das categorias de base que se amontoarem na minha sala para aprender a fazer cinema: com uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma bola nos pés!
Esse não é o começo da história de cada um de nós.
Já começamos e recomeçamos muitas vezes, em cidades diferentes, no meio-campo e nas beiradas. Não fiquei surpresa quando um dos oito jogadores contou ser meu conterrâneo. Eu senti o cheiro do mato, eu sabia que estava perto de casa.
A partir de hoje você acompanha aqui o começo, ou melhor dizendo, começos, no plural, de uma jornada experimental que une futebol, cinema, e o pesquisar junto. Uma cartografia dos afetos construídos no percurso da pesquisa futebolística.